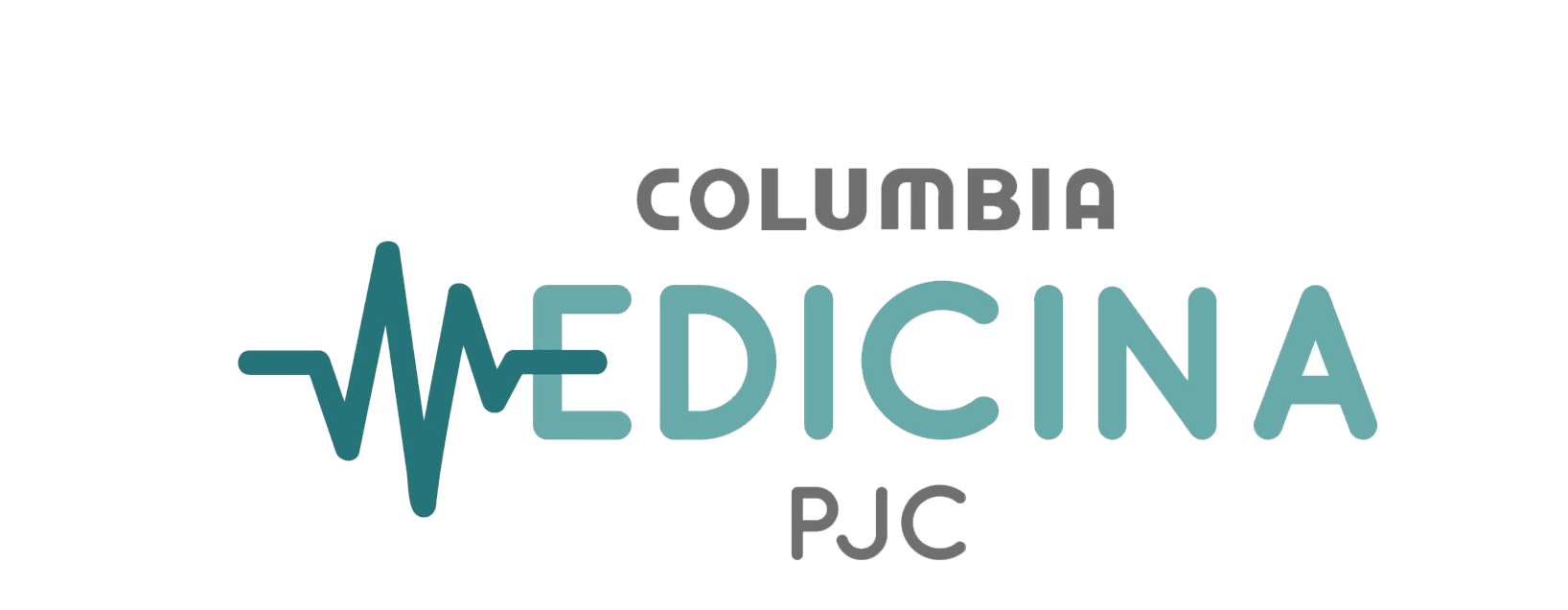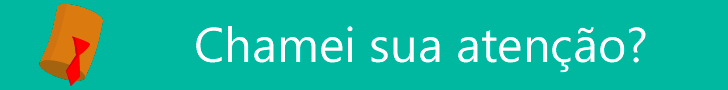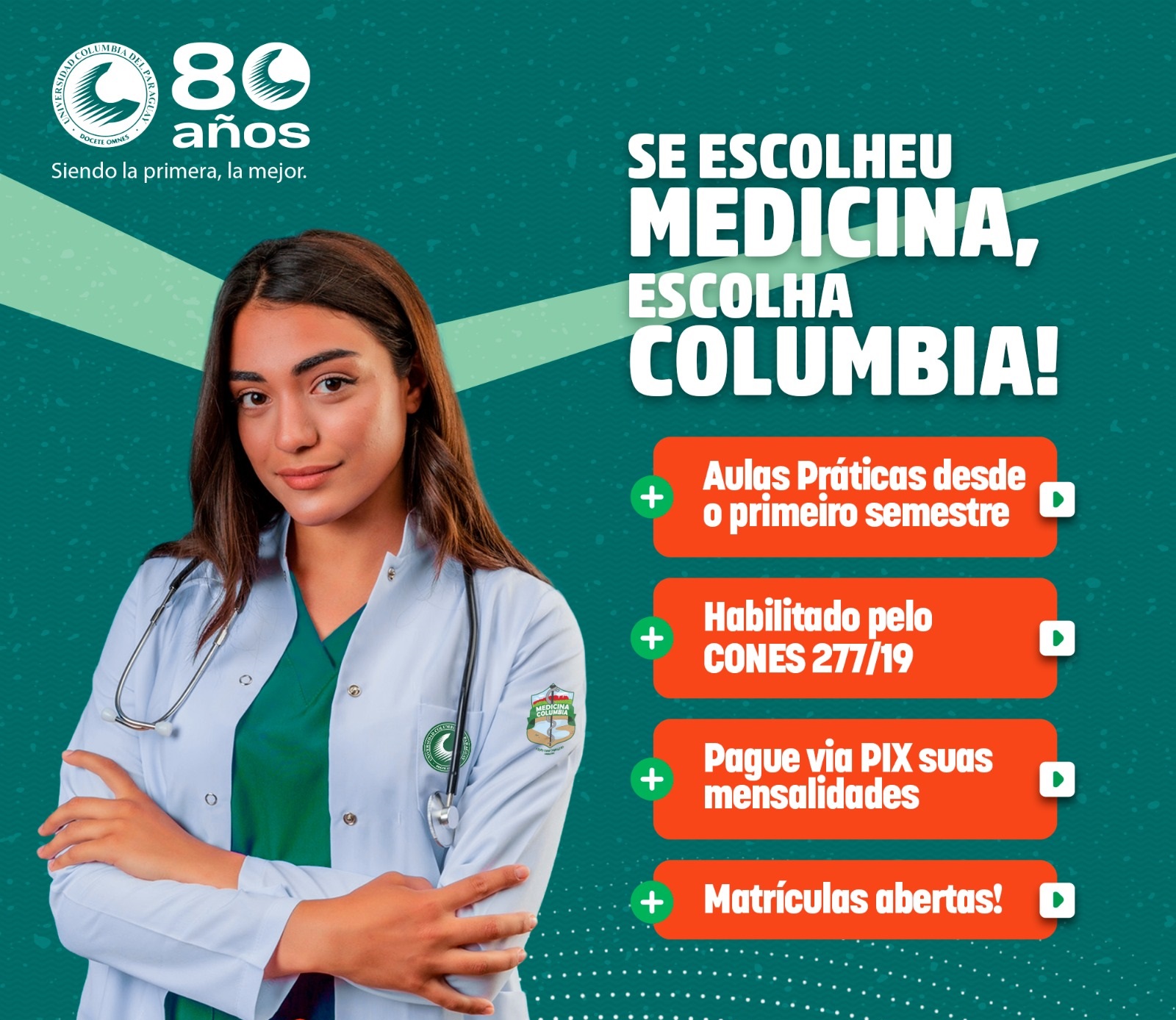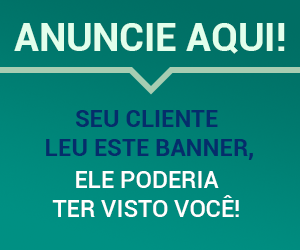O trabalho simultâneo é fundamental para encontrar estratégias de controle do surto, baseadas em dados do comportamento do vírus
O coronavírus nem havia desembarcado no país, mas cientistas do Brasil já estavam de olho neste ser minúsculo, que parece ter virado o vilão número um do planeta na última semana.
Agora, após São Paulo confirmar o primeiro caso em nosso território, haverá um número ainda maior de microscópios e outros equipamentos focados no problema – 48 horas foram suficientes para equipes do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de São Paulo (USP), com a ajuda de ingleses, sequenciarem o genoma do vírus que infectou o brasileiro. E os ministérios da Ciência e da Saúde já montam uma rede de pesquisadores para decifrar a doença.
O trabalho simultâneo é fundamental para encontrar soluções mais rapidamente – estratégias de controle do surto, baseadas em dados do comportamento do vírus, testes de diagnóstico, tratamentos e até uma vacina. Assim, o Brasil já começa a ajudar na montagem do quebra-cabeças da epidemia – o que envolve gente do mundo todo.
Especialistas brasileiros e representantes dos dois ministérios compartilharão dados na Rede Vírus MCTIC, criada oficialmente na semana passada, que mira a doença vinda da China e a influenza (gripe comum) e outras viroses emergentes.
Os objetivos são integrar pesquisas e definir prioridades. Será feita uma teleconferência esta semana com cientistas de EUA, Canadá, Índia, Austrália e Reino Unido. Vão participar da rede a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Sociedade Brasileira de Virologia e universidades federais.
O sequenciamento em só dois dias do genoma do coronavírus exemplifica o potencial das parcerias. O trabalho de desvendar cepas (subtipos) desse vírus tem sido feito por vários países e levado, em média, 15 dias.
A rapidez brasileira – do Adolfo Lutz, da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford (Reino Unido) – foi possível porque já existe há um ano um projeto, o Cadde, criado para desenvolver novas técnicas – rápidas e baratas – para monitorar epidemias em tempo real. Foi um desdobramento da Rede Zika – criada em outro surto, que fez subir os casos de microcefalia no País em 2016.
Originalmente, o Cadde se concentrou em arboviroses, como dengue e zika. Da febre amarela, que voltou com força em 2018, já foram sequenciadas quase mil amostras. “Trabalhamos agora na análise desses dados. Mas não queríamos trazer dados só depois da epidemia. A ideia é poder entendê-la enquanto acontece para dar respostas. Com esse coronavírus, teremos a primeira chance de fazer isso”, diz Ester Sabino, do Instituto de Medicina Tropical da USP.
Em outro estudo recente, a Fiocruz, com as universidades de Milão (Itália) e da Flórida (EUA), investigou as dinâmicas e vestígios do início e dispersão do novo surto. Com ferramentas de bioinformática, a análise de 29 sequências genéticas reforça que a origem foi mesmo em Wuhan, na China, mas indica que o ponto de partida pode ser novembro – e não dezembro, como se imaginava.
Já o infectologista Esper Kallas, da Faculdade de Medicina da USP, lidera a comissão de crise do Hospital das Clínicas, que há um mês planeja como enfrentar o novo vírus. O esforço se divide em três frentes: criar protocolos de atendimento a pacientes, estudar a disseminação do vírus em ambiente hospitalar e contato com laboratórios estrangeiros para usar remédios já empregados para outros fins que possam ter novo uso.
Fora do país, já se testam medicamentos de aids e ebola para o novo coronavírus. “Talvez o remédio de tratamento esteja na farmácia. Mas não basta testar isso aleatoriamente. É preciso estudo criterioso”, diz Kallas. O projeto tem o apoio de universidades americanas, como as de Miami e da Califórnia.
Embora o vírus que causa a Covid-19 seja novo, coronavírus humanos são comuns no Brasil. De sete tipos mapeados, é o quinto a surgir aqui. As duas variações mais perigosas, que saltaram de animais para humanos, não chegaram: a da síndrome respiratória aguda grave (Sars), que matou mais de 800 pessoas em 2002 e 2003, e a da do Oriente Médio (Mers), com 858 óbitos desde 2014.
Especialista no tema, Paulo Eduardo Brandão, da Faculdade de Veterinária da USP, diz que o alto número de variedades não significa que o Brasil seja “propício” para a disseminação do vírus. “O que importa não é o clima, mas a presença ou não de hospedeiros suscetíveis.” Entre as hipóteses para a origem do novo vírus, estão morcegos e serpentes.
Entre os desafios, porém, está a restrição de verba que atinge a ciência brasileira atualmente. Jerson Lima, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio (Faperj), lembra que o Brasil não tem laboratório nível 4 de biossegurança para pesquisa com vírus que requerem essa classificação.
Para o novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pede estrutura nível 3 para experimentos com animais, o que é preciso para pesquisar vacinas. Há laboratórios desse nível, como na Fiocruz e na Universidade Federal do Rio (UFRJ). “A vantagem de trabalhar em rede é que diferentes laboratórios podem dividir as tarefas”, afirma Lima.
Sobre a Rede Vírus, o Ministério da Ciência disse que a demanda de verba ainda será avaliada segundo as prioridades.
Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.
Fonte: R7