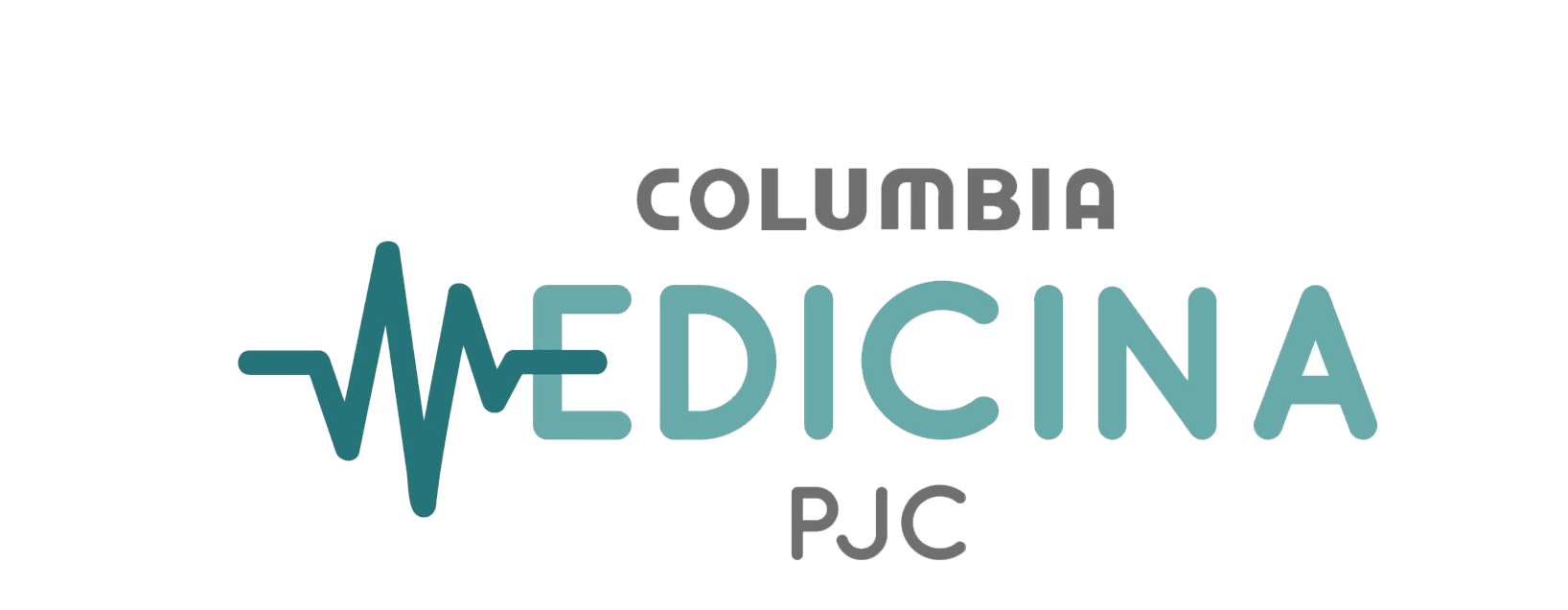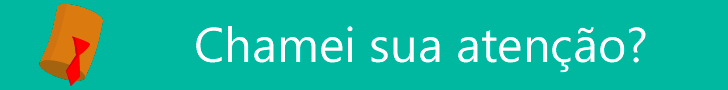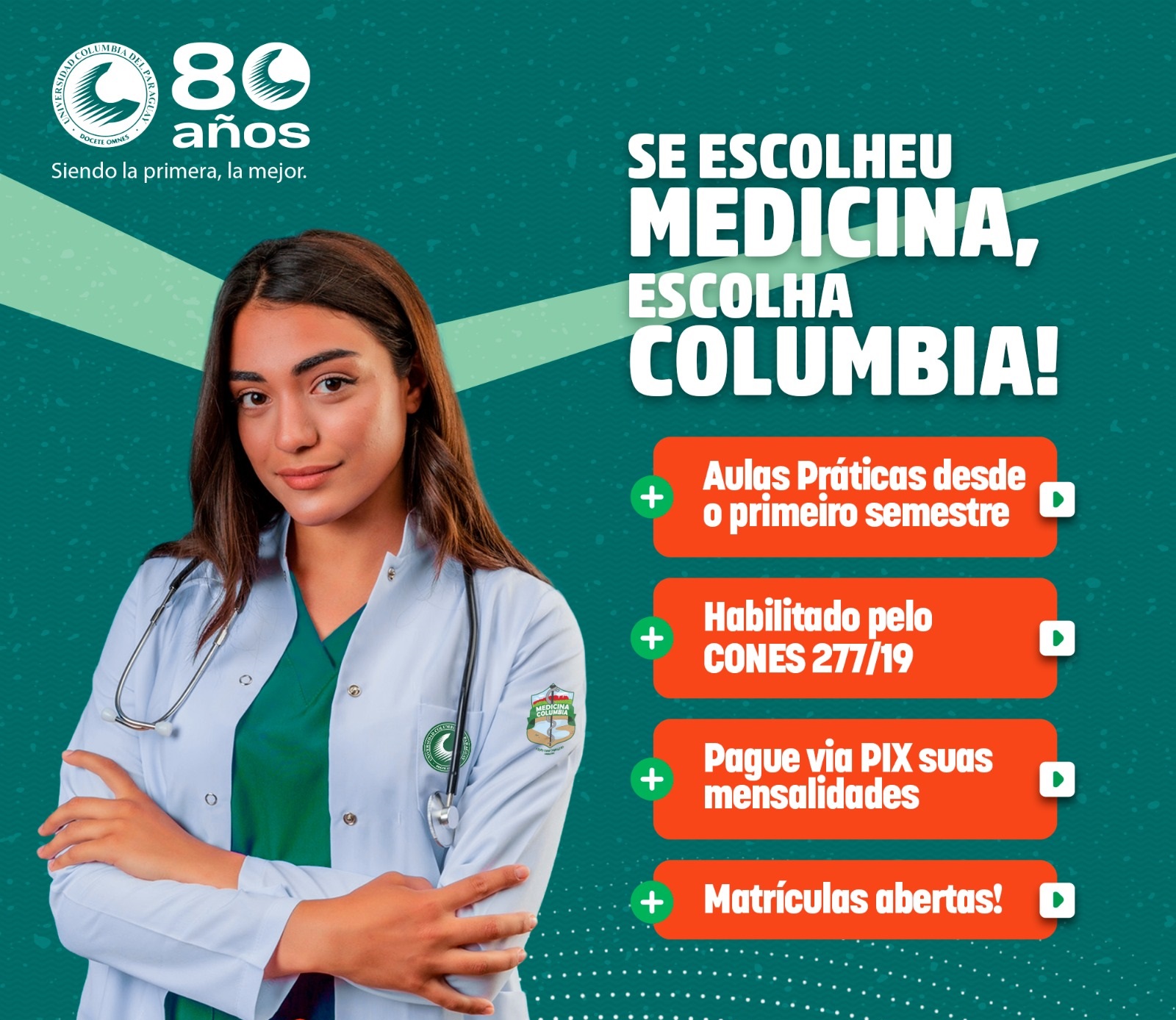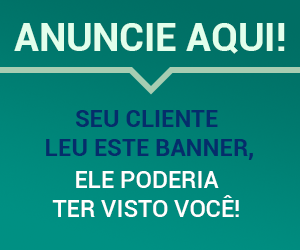Chegada no Brasil nos anos 1600, a hanseníase, antes chamada pejorativamente de “lepra”, continua sendo um problema de saúde pública mais de quatro séculos depois.
O Brasil fica em segundo lugar no ranking de população acometida, com 18.318 casos diagnosticados em 2021, ano com o registro consolidado mais recente de dados epidemiológicos, o que faz com que o país fique atrás apenas da Índia.
Por lei criada em 2009, o Brasil instituiu a data de 31 de janeiro como Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase.
A hanseníase é transmitida por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e espirro de doentes que ainda não iniciaram tratamento e estão em fases adiantadas da doença, já que o microorganismo responsável por ela, uma bactérica chamada de bacilo de Hansen, pode ficar incubado durante um período de dois a cinco anos.
Mas para que a transmissão ocorra, o contato precisa ser prolongado e próximo — como o de pessoas que vivem na mesma casa, por exemplo —, diferentemente de outras doenças infecciosas como a covid-19, que podem ser disseminadas por um contato mais superficial.
Ainda assim, não são todas as pessoas que entram em contato com a bactéria que desenvolvem a doença. “É necessário ter uma suscetibilidade genética à doença, relacionada a falhas na imunidade inata, ou seja, que vem desde o nascimento.
Cerca de 10% da população é mais suscetível à hanseníase, mas isso não quer dizer que os outros 90% não possam ficar doentes – só é provável que desenvolvam quadros mais leves”, explica Egon Daxbacher, médico do departamento de hanseníase da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).
Embora a hanseníase seja marcada por feridas grosseiras na pele, que estigmatizam a aparência dos acometidos, sua importância para a saúde pública está relacionada aos danos que o bacilo de Hansen pode causar no sistema nervoso periférico (terminações nervosas livres e troncos nervosos), que podem ocorrer quando a doença não é diagnosticada e tratada precocemente.
Nesses casos, os doentes sofrem com a perda de sensibilidade nos membros, paralisias musculares e até incapacidades físicas permanentes, como atrofias ou necessidade de amputação de membros, quando o bacilo causa danos irreversíveis nas terminações nervosas.
O tratamento feito da forma correta pode durar até um ano e meio e permite a cura — mas não impede, caso demore a ser feito, que o paciente sofra com sequelas irreversíveis.

CRÉDITO,VISUAL7/GETTY IMAGES. Hanseníase pode causar marcas na pele e atrofia nos membros
Internação compulsória marcou história da doença no Brasil
Por séculos, no Brasil e no mundo, pensava-se que a hanseníase era muito mais contagiosa do que realmente é, o que resultou no isolamento e segregação de milhões de pessoas.
“O Brasil foi um dos primeiros países que se sabe, por conta da comunicação precária da época, a ter casos da doença, por volta do ano 1600, quando surgiram relatos no Rio de Janeiro. A coroa portuguesa investiu muito pouco, como em tudo no país, o que contribuiu para a disseminação da hanseníase”, diz a médica Patrícia Deps, dermatologista e referência no combate à Hanseníase no Brasil, que foi selecionada como membro na “WHO Technical Advisory Group-Leprosy control”, um programa de combate à doença da OMS (Organização Mundial da Saúde), no qual irá atuar entre os anos de 2022 e 2025.
“O olhar mais cuidadoso para a hanseníase no início do século 20, na ‘era dos sanitaristas’ [quando o Brasil começou a ter políticas voltadas para à saúde pública, como a vacinação em massa]”, complementa Deps.
O conhecimento, no entanto, não era abrangente, e parte da solução encontrada com o passar do tempo é hoje vista como medida que fere os direitos humanos.
“Pacientes com hanseníase passaram a ser internados em instituições focadas apenas na doença. A ideia era tratar os doentes — embora na época não existisse tratamento realmente efetivo — e proteger a população saudável”, aponta.
Entre 1920 e 1950, foram inaugurados quarenta hospitais-colônias (chamados pejorativamente de leprosários) em todo o Brasil — a maioria deles criados no governo de Getúlio Vargas.
Em 1949, o isolamento forçado dos hansenianos virou lei federal, que vigorou até 1986. A legislação permitia até mesmo separar filhos de suas mães.
Em 2007, a lei foi tida como um erro das políticas públicas e pacientes que foram internados até 31 de dezembro de 1986 foram considerados aptos a receber pensão mensal vitalícia de R$ 750 conforme o art. 1º da Lei nº 11.520/2007.
‘Não era capaz nem de segurar uma escova de dentes’
Maria Catelli, 74, foi uma das milhares de brasileiras que passaram por uma instalação com foco no tratamento e reabilitação de pacientes hansenianos. Moradora de Maringá, no Paraná, ela foi internada em 1986, quando o isolamento já não era mais obrigatório.
Mãe solteira de três crianças pequenas, Maria já sofria com a doença havia anos, mas foi durante uma crise que provocou dores intensas que concordou em ser internada.
“Três anos antes, eu perdi um chinelo porque meu pé inchou demais, sem explicação. Era o primeiro sinal. Depois as articulações também aumentaram de tamanho. Fizeram um teste de hanseníase no qual pegaram uma amostra de pele, mas como eu não tinha feridas, foi inconclusivo. O diagnóstico demorou meses, só veio depois de vários exames”, conta.
Enquanto esperava o diagnóstico, Maria foi perdendo a força. Quando carregava uma caixa de bebidas na padaria em que trabalhava, sentiu as mãos falharem e derrubou a encomenda. Foi o último trabalho que teve.
Mesmo seguindo o tratamento indicado pelos médicos, os medicamentos não controlavam a doença por completo e ,alguns anos depois do diagnóstico, Maria teve o que os médicos chamam de reação hansênica, quadro que causa sintomas dolorosos.
“Em 1986 tive uma crise muito forte, com febre e dor que não passavam, e me encaminharam para internação em Curitiba, no Paraná. Quando cheguei lá, não era capaz nem de segurar uma escova de dentes.”
Foram quatro meses de internação com remédios para controle de dor, fisioterapia e atividades para ocupar a mente, como oficinas de artesanato.
Lá, Maria conta ter sido bem tratada e presenciado histórias tristes de outros pacientes com hanseníase. “Havia muitas pessoas com problemas mentais e com membros amputados. Me lembro de uma menina bem jovem, 20 e poucos anos, que chorava muito por que ela perderia a perna. No centro cirúrgico ela teve complicações e acabou falecendo.”
A médica Patrícia Deps explica que, mesmo com o fim da internação compulsória, os pacientes continuaram a ir para os hospitais-colônias por anos, não só por motivos de crise, como no caso de Maria, mas também por conta do estigma que os acompanhava.
“A vida era tão ruim para as pessoas na comunidade, que sofriam preconceito e tinham um pavor enorme de infectar as pessoas amadas, que às vezes preferiam se isolar”, explica a médica.
Maria contou que já foi hostilizada mesmo sem apresentar marcas graves na pele. “Houve um burburinho na igreja onde eu frequentava os cultos. As pessoas começaram a falar que eu tinha hanseníase e pedir uns aos outros para não se aproximarem de mim.”
Passados alguns anos da internação em Curitiba, Maria começou a apresentar úlceras na pele, as feridas características da doença. A gravidade das lesões resultou em amputações. Ela perdeu os dois dedos menores dos pés.
Ela também desenvolveu uma osteomielite, infecção óssea grave geralmente causada por bactérias, micobactérias (gênero de bactérias) ou fungos, que resultou na amputação de sua perna esquerda. “Os médicos me explicaram que essas perdas ao longo dos anos foram todas sequelas da hanseníase”, conta Maria.

CRÉDITO,ARQUIVO PESSOAL. Mãos de Maria Catelli foram atrofiadas pela hanseníase
Maria conta que tentou conseguir a pensão mensal oferecida pelo governo para pessoas que foram internadas em hospitais-colônias, mas ela não tinha todos os documentos necessários.
“Há 40 anos, as pessoas tinham muito mais preconceito com a doença, apesar de ainda existir. Eu agradeço a Deus por ter me mantido forte, porque sei que a hanseníase fez muita gente perder a cabeça.”
Tratamento e prevenção da hanseníase
Ainda não há uma vacina considerada completamente efetiva que proteja contra a hanseníase. A BCG, oferecida contra a tuberculose na infância, parece oferecer alguma proteção.
A melhor forma de conseguir um desfecho positivo é começar o tratamento antes que a doença avance demais. Nesse sentido, o Brasil tem um ponto positivo: foi o primeiro país do mundo a oferecer teste rápido e gratuito, via SUS (Sistema Único de Saúde), para detecção precoce da hanseníase.
“Campanhas, exames de contato e busca ativa são essenciais em um país com tantos casos como o Brasil. Mas junto a isso, precisamos formar profissionais que entendam da doença e reconheçam as reações – a hanseníase é uma doença complexa com manifestações clínicas diversificadas”, aponta a dermatologista Patrícia Deps.
O tratamento contra a hanseníase demorou a evoluir. Na década de 1940, foi descoberta a dapsona, primeiro antibiótico empregado contra o bacilo de Hansen. Na década de 1960, a clofazimina, remédio antibacteriano, também passou a ser usado. Na década seguinte, 1970, outro antibiótico, a rifampicina, entrou em cena. A utilização conjunta dos fármacos trouxe a tão esperada cura.
Em 1981, a OMS passou a recomendar, em nível mundial, a terapia múltipla ou PQT (poliquimioterapia), incluindo os três medicamentos.
Na maioria dos casos, a terapia conjunta, que está disponível gratuitamente no SUS, é capaz de matar o bacilo, tornando inviável a transmissão da doença, além de evitar a evolução dos quadros e consequentemente as incapacidades e sequelas causadas por ele.
Efeitos colaterais podem incluir irritação gástrica, dor de cabeça, fotodermatite (sensibilidade ao sol), anemia, até condições mais graves (e também mais raras) como agranulocitose (doença aguda do sangue) e hepatite.
“Mas há também pessoas que são resistentes ao tratamento padrão. Nesses pacientes, mesmo com remédios, os bacilos continuam íntegros, o que pode causar as reações hansênicas. Se a resistência for comprovada, remédios como os antibióticos minociclina e ofloxacina e o antibacteriano claritromicina podem ser usados”, explica Deps.
Na avaliação da médica, há uma necessidade de criação de novos fármacos.
“Temos relatos de resistência à dapsona e fincina, principalmente. Falta atenção, investimento farmacêutico e pesquisa sobre hanseníase. É uma das 20 doenças negligenciadas no Brasil.”

CRÉDITO,GETTY IMAGES. Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo, atrás apenas da Índia
No Brasil, covid-19 pode ter causado ‘falsa redução’ de casos de hanseníase
A Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que a pandemia da covid-19 pode ter levado a um número de diagnósticos menor do que a realidade apresenta, uma situação marcada pela reorganização de profissionais que precisaram focar em atender pacientes infectados pelo Sars-CoV-2, serviços fechados e políticas de distanciamento.
Em 2019, antes da pandemia da covid-19, foram notificados 27.864 casos de hanseníase no Brasi, de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, foram 17.979 casos – uma queda de 35%.
Em nível mundial, a OMS estima que 37% dos novos casos em 2020 não foram diagnosticados. Como o Brasil é a segunda maior nação com casos da doença, é esperado que muitas pessoas não tenham sido diagnosticadas aqui.
“Essas pessoas que não foram tratadas podem ter sequelas graves. E como o período de incubação é de 3 a 7 anos até desenvolver a doença, passado esse tempo, poderemos ter um número ainda maior de pessoas com hanseníase no Brasil”, conclui Deps.
Este texto foi originalmente publicado em BBC News