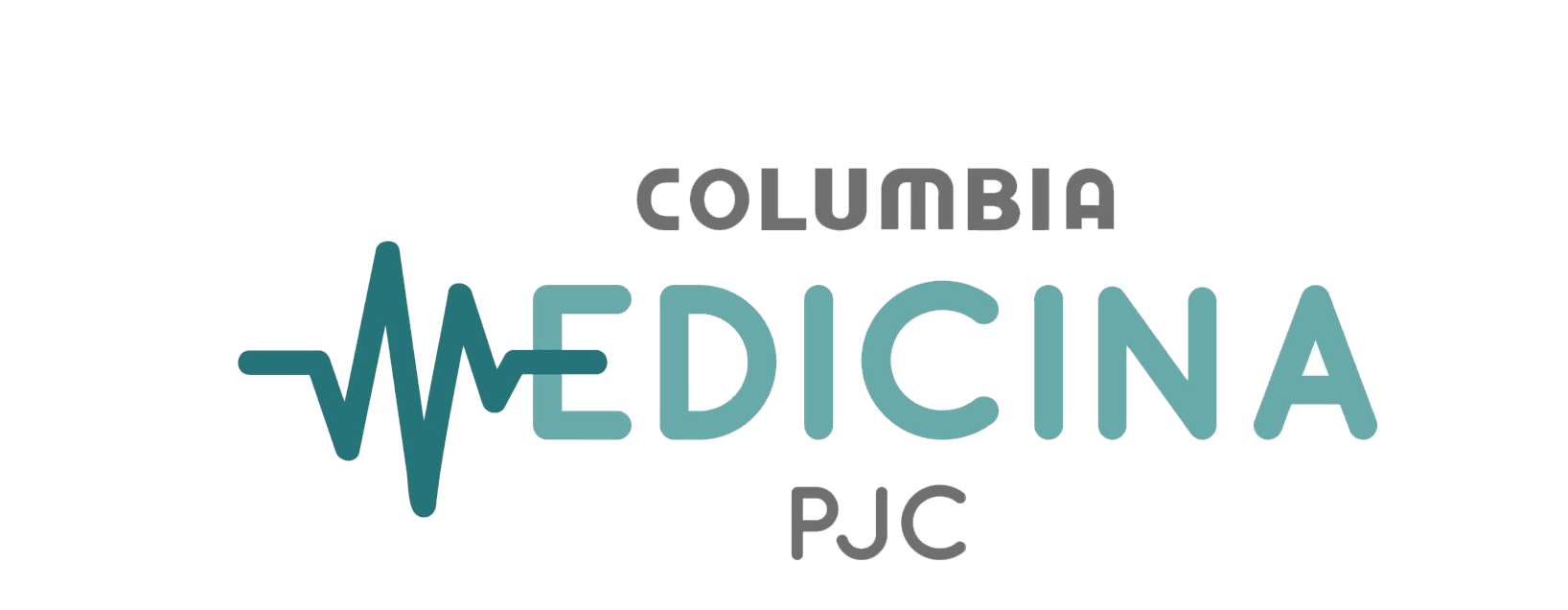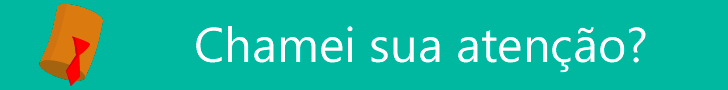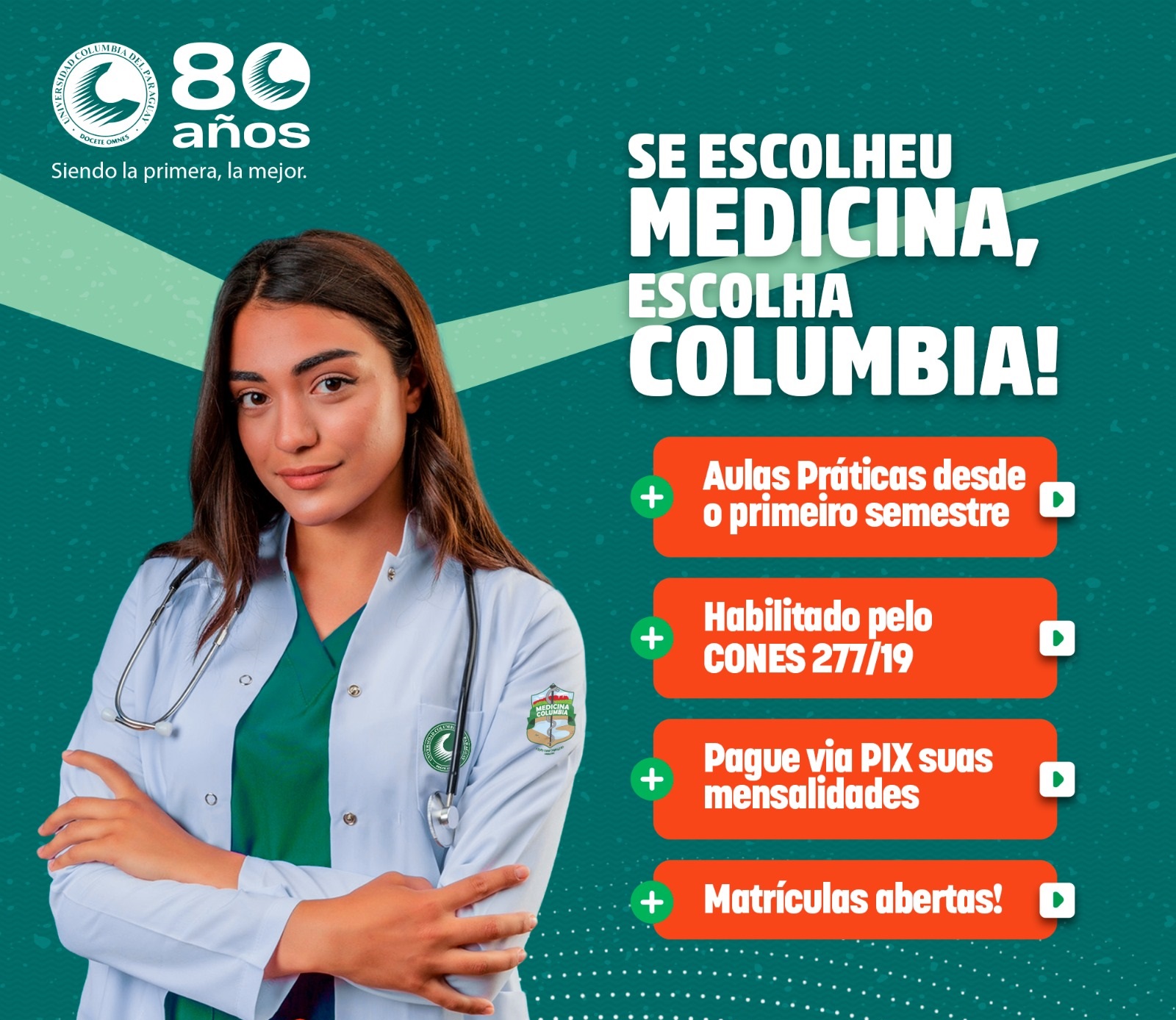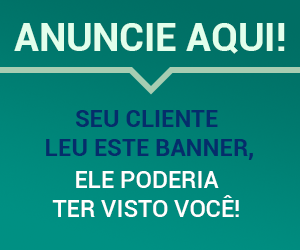“Nos últimos 30 anos, a emergência de patógenos infecciosos com potencial epidêmico e pandêmico expuseram e ameaçaram a saúde global e a economia.”
É assim que os três principais líderes da Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus, iniciam uma carta publicada na revista Science no dia 13 de outubro, em que anunciam a criação Grupo de Aconselhamento Científico Sobre as Origens de Novos Patógenos (ou Sago, na sigla em inglês).
A ideia da entidade é montar uma verdadeira força-tarefa para desvendar de vez as origens do Sars-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia atual, e monitorar o surgimento de doenças novas em vários cantos do planeta.
Embora a principal suspeita seja a de que o causador da covid-19 surgiu na natureza, por meio de morcegos que habitam regiões da China ou do Sudeste Asiático, ainda não está claro se houve um animal intermediário antes que o vírus “pulasse” para seres humanos — e a hipótese de que o agente infeccioso escapou de um laboratório não está 100% descartada pelos especialistas da área.
“Sars-CoV, Mers-CoV, influenza, ebola, marburg, lassa, nipah, zika e, agora, o Sars-CoV-2 foram todos os causadores da ‘doença X’ por um tempo”, escrevem os representantes da OMS.
Nesse contexto, o termo “doença X” é comumente usado para descrever a próxima grande pandemia que afetará a humanidade num futuro próximo. Esse foi (e continua a ser) o caso da covid-19, que começou a chamar a atenção no final de 2019 e causou uma crise sanitária global que não era vista há pelo menos um século.
“Até o momento, pelo menos 4,8 milhões de pessoas morreram de covid-19. Eles e seus familiares merecem respostas sobre onde e como esse vírus se originou. E essa informação é interesse de todos, pois precisamos estar melhor preparados para a próxima doença X”, finalizam os especialistas no artigo da Science.

CRÉDITO,REUTERS. Tedros Adhanom Ghebreyesus entende que interesses políticos atrapalharam as investigações sobre as origens da covid-19
Mas como um trabalho desses acontece na prática? Como é que os cientistas “caçam” coisas tão microscópicas como os vírus? A BBC News Brasil conversou com quatro virologistas brasileiros que fazem esse tipo de pesquisa. Eles contam um pouco da rotina no laboratório (e fora dele) e da importância desse trabalho para entender melhor as ameaças do presente e do futuro.
Duas décadas agitadas
Com 37 anos de serviços prestados à ciência, Edison Luiz Durigon é um dos mais conhecidos “caçadores de vírus” do Brasil.
O professor titular de virologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) conta que o interesse por essa área no país ganhou força a partir de 2003, quando foram feitos investimentos para o monitoramento de vírus em território nacional.
“À época, nós estávamos muito preocupados com a febre do oeste do Nilo, uma doença emergente que poderia chegar ao país através de aves migratórias”, lembra.
Transmitido por picadas de mosquitos, esse vírus pode afetar, além das próprias aves, seres humanos e cavalos. “A infecção costuma ser leve na maioria das vezes, mas pode causar uma encefalite [inflamação do cérebro] letal em crianças e idosos”, explica o professor.
Ao contrário de dengue, zika e chikungunya, que são veiculados pelo Aedes aegypti, o gênero de mosquito que transmite a febre do oeste do Nilo é o Culex, o pernilongo comum que se reproduz até em água suja.
“Em 2003, nós montamos um dos primeiros laboratórios de biossegurança nível 3, que têm controle bem rígido, e formamos uma equipe para capturar aves migratórias, colher amostras e analisar a presença de vírus nelas”, contextualiza Durigon.

CRÉDITO,REPRODUÇÃO/YOUTUBE ICB-USP. O ‘caçador de vírus’ Edison Luiz Durigon faz o monitoramento de aves migratórias que chegam ao Brasil há quase duas décadas
Nessa mesma época, outro vírus assustou o mundo: o Sars-CoV, um “primo” do coronavírus por trás da covid-19. Identificado na China, ele causava a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida pela sigla Sars, e matou cerca de 700 pessoas em 29 países diferentes.
“Na sequência, observamos, em 2005, o surgimento do H5N1, que foi chamado de causador da gripe aviária, em 2009, o H1N1, e assim por diante”, lista o pesquisador.
Nesse meio tempo, Durigon e outros especialistas ainda lidaram com dengue, zika, chikungunya, ebola…
Para resumir a história, os virologistas do Brasil e do mundo não tiveram sossego nesse começo de século 21: foram vários os episódios de surtos e epidemias que exigiram o trabalho deles nos últimos anos.
Os alvos prediletos
Os caçadores de vírus costumam acompanhar mais de perto algumas espécies de animais, que sabidamente carregam agentes microscópicos com potencial danoso à saúde humana.
E, como adiantamos mais acima, as aves são objeto de monitoramento constante.
“Em meados de novembro, cerca de 5 bilhões de aves migram do Hemisfério Norte para o Sul, num dos fenômenos mais bonitos da natureza”, calcula Durigon.
O pesquisador do ICB-USP explica que, no Brasil, esses animais costumam pousar em três lugares específicos: no extremo Sul, próximo à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, no extremo Norte, nas cercanias de Belém do Pará, e nas regiões costeiras de Pernambuco e Maranhão.
“Elas vêm pra cá em busca de alimentação, principalmente de pequenos crustáceos típicos desses locais”, complementa o virologista.
Todos os anos, uma equipe de cientistas vai até essas localidades para colher amostras das aves e ver que vírus elas carregam.
“Nós já encontramos os influenzas H6N8 e o H11N9, que têm potencial de causar uma pandemia no futuro”, informa Durigon.

CRÉDITO,GETTY IMAGES. Aves migratórias podem levar novos vírus de um canto do planeta a outro
Mas as aves migratórias não são o único objeto de interesse: grupos de pesquisa também monitoram com frequência primatas, roedores, mosquitos e, claro, os morcegos.
A virologista Helena Lage Ferreira, co-coordenadora da rede PREVIR-MCTI e professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, chama a atenção para a enorme variedade de morcegos que existem não apenas no Brasil, mas em todo o Hemisfério Sul.
“E a gente conhece muito pouco dessa diversidade e quais vírus circulam entre eles. Precisamos ter uma maior vigilância sobre essas espécies”, aponta.
A especialista, que também é primeira secretária da Sociedade Brasileira de Virologia, conta que, a partir da pandemia de covid-19, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações decidiu criar a Rede Vírus, um comitê que reúne especialistas de várias instituições para estudar e integrar iniciativas de combate às viroses emergentes no país.
“Quando a gente conhece melhor a situação, não somos pegos de surpresa por doenças novas e totalmente desconhecidas” diz Ferreira.
O virologista Cláudio Wageck Canal, que estuda vírus causadores de abortos em suínos, ovinos e bovinos, conta que o avanço da tecnologia facilitou bastante o trabalho de monitoramento dos vírus.
“Nos últimos 10 anos, tivemos acesso a equipamentos que permitem sequenciar e identificar os vírus com muito mais facilidade”, informa o pesquisador, que é professor titular da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O salto entre espécies
Mas como um vírus, que está adaptado a uma espécie, “pula” para a outra e começa a causar novos danos?
Esse processo é conhecido pelo termo inglês spillover, que pode ser traduzido para o português como “transbordamento”.
Ele acontece quando uma espécie, que é o reservatório natural daquele vírus, passa a ter um contato mais frequente com uma segunda espécie.
Com o passar do tempo e essa proximidade constante, o agente infeccioso sofre mutações, que podem facilitar a transmissão de um tipo de animal para outro.
Vamos pegar como exemplo o Sars-CoV, o causador da epidemia de Sars em 2002 e 2003. Sabe-se que esse tipo de coronavírus circulava entre morcegos da Ásia. Por uma série de fatores, ele “pulou” e começou a afetar também as civetas, um mamífero comum em algumas regiões daquele continente. Passado algum tempo, o agente infeccioso deu um novo salto e passou a invadir o organismo de seres humanos.

CRÉDITO,GETTY IMAGES. A civeta foi o animal intermediário entre morcegos e humanos na epidemia de Sars, em 2002 e 2003
Para causar um surto, uma epidemia ou uma pandemia ainda mais grave, o vírus ainda pode passar por uma última etapa: sofrer uma nova leva mutações, que permita que ele seja transmissível de uma pessoa para outra, sem a “intermediação” de um animal.
É por isso que as aves migratórias geram tanta preocupação: elas são capazes de trazer o vírus influenza, o causador da gripe, de um hemisfério para outro. Quando chegam ao Brasil, por exemplo, elas têm contato com aves locais, que podem ser infectadas pelo patógeno.
“Nós temos muitas granjas instaladas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul que estão próximas dos sítios migratórios das aves”, acrescenta Durigon.
Do ponto de vista econômico, isso representa uma grande ameaça. Se o influenza acaba transmitido para essas galinhas e é identificado a tempo, elas precisam ser abatidas, o que representaria um grande prejuízo e um risco de desabastecimento no mercado.
Já sob a perspectiva da saúde pública, há também um perigo enorme. Se esses vírus da gripe sofrerem algumas mutações, eles poderiam começar a ser transmitidos para os cuidadores e os demais funcionários das granjas. E daí basta mais um passo para que a infecção passe de indivíduo para indivíduo.
“Nos últimos anos, foram registrados surtos de influenza H5N1 em criadouros de lugares como Rússia e Egito. Isso é algo que começa a nos assustar”, avalia Durigon.
Um bicho ‘enxerido’
Agora que já entendemos como acontece o tal do spillover, podemos nos debruçar na próxima pergunta: com todas as experiências de surtos no século 21, esses eventos estão se tornando mais comuns? Por que os vírus estão “pulando” mais para os seres humanos?
“Porque o homem é um bicho enxerido”, responde Durigon.
“O desenvolvimento social e econômico é sempre acompanhado de desmatamento e queimada. Toda vez que o homem entra no ambiente do animal, ele favorece o surgimento de uma doença nova”, completa o pesquisador.
Os dados mostram como a destruição de ambientes naturais se acelerou em épocas mais recentes.
Dados do Banco Mundial indicam que, em 1990, o mundo possuía 41,2 milhões de quilômetros quadrados de área florestal. Esse número caiu para 39,9 milhões em 2016. Parece uma redução pequena? A área devastada de mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados em apenas 16 anos é quase equivalente ao Amazonas inteiro (o maior Estado do Brasil) e supera a área de países como Peru, Colômbia e África do Sul.
Ou seja: os vírus estão quietinhos lá na natureza, cumprindo seus infindáveis ciclos de replicação dentro de um ser vivo. Com o avanço das cidades, mais natureza é destruída, o que desloca os animais e facilita o contato deles com os seres humanos.
O spillover, portanto, acaba favorecido.
De acordo com a virologista e patologista Paula Rodrigues de Almeida, professora do curso de veterinária da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul, os contágios costumam acontecer nas chamadas “zonas de interface”.
“São ambientes naturais que foram degradados, em que acontece com mais frequência essa exposição da espécie humana aos novos vírus”, ensina.
A cientista, que faz o monitoramento de mosquitos transmissores vírus como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, também chama a atenção para o fenômeno contrário: o spillback.
“Há sempre o risco de doenças que afetam os humanos começarem a infectar espécies animais e criarem reservatórios na natureza”, detalha.
“Foi o que aconteceu com a febre amarela no Brasil, que hoje é encontrada em mosquitos de áreas silvestres.”

CRÉDITO,GETTY IMAGES. As ‘zonas de interface’, áreas degradadas e destruídas na natureza, representam um grande perigo para o surgimento de novos vírus
Propagação facilitada
Depois que o vírus adquire a capacidade de ser transmitido entre seres humanos, o risco de ele se espalhar mundo afora vai depender de uma série de fatores, como a forma de transmissão e o potencial de letalidade.
Mas é inegável que a configuração atual do mundo facilita (e muito) esse processo.
Além da destruição do meio ambiente, sobre a qual já falamos, as pessoas vivem aglomeradas em grandes cidades e a conexão entre diferentes partes do mundo é facilitada pelas viagens de avião.
Um indivíduo infectado com o coronavírus, por exemplo, pode sair do Brasil e chegar ao Japão em menos de 48 horas, antes mesmo de desenvolver os primeiros sintomas da covid-19.
É possível conter as futuras crises sanitárias?
Com tantos fatores jogando contra, é consenso entre especialistas que vamos passar por novas pandemias num futuro próximo.
“Essa não é uma questão de ‘se’, mas, sim, de quando vai acontecer”, diz Ferreira.
De acordo com os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, existe uma grande probabilidade de que a próxima crise de saúde seja causada pelo influenza, o causador da gripe.
“A maior chance é que esse vírus surja na Ásia, por causa da densidade populacional e do grande volume de criação de aves e suínos de lá”, projeta Canal.
A boa notícia é que as agências internacionais de saúde, como a OMS, parecem ter um planejamento mais elaborado para conter essa futura ameaça.

CRÉDITO,GETTY IMAGES. A descrição e o estudo de novos vírus permite entender melhor as futuras ameaças — e eventualmente até desenvolver vacinas e tratamentos contra elas
“Existe um plano de contingência que pode ser colocado em prática assim que um influenza emergente aparecer”, detalha Durigon.
“Isso envolve a produção de vacinas de forma rápida. Existem laboratórios treinados no mundo todo para que a fabricação demore poucos meses e, inclusive, o Instituto Butantan, em São Paulo, faz parte deste consórcio”, complementa.
Mas é claro que sempre há o risco de um outro vírus diferente do influenza aparecer e virar a nova dor de cabeça da humanidade, como foi o caso do próprio coronavírus nesses últimos meses.
Isso só reforça a importância do trabalho dos caçadores de vírus e desse monitoramento constante das possíveis ameaças.
“Um time de pesquisadores capazes e coordenados, junto com o financiamento contínuo da ciência, são elementos cruciais para que a gente não seja surpreendido novamente”, finaliza Ferreira.
Fonte: BBC News