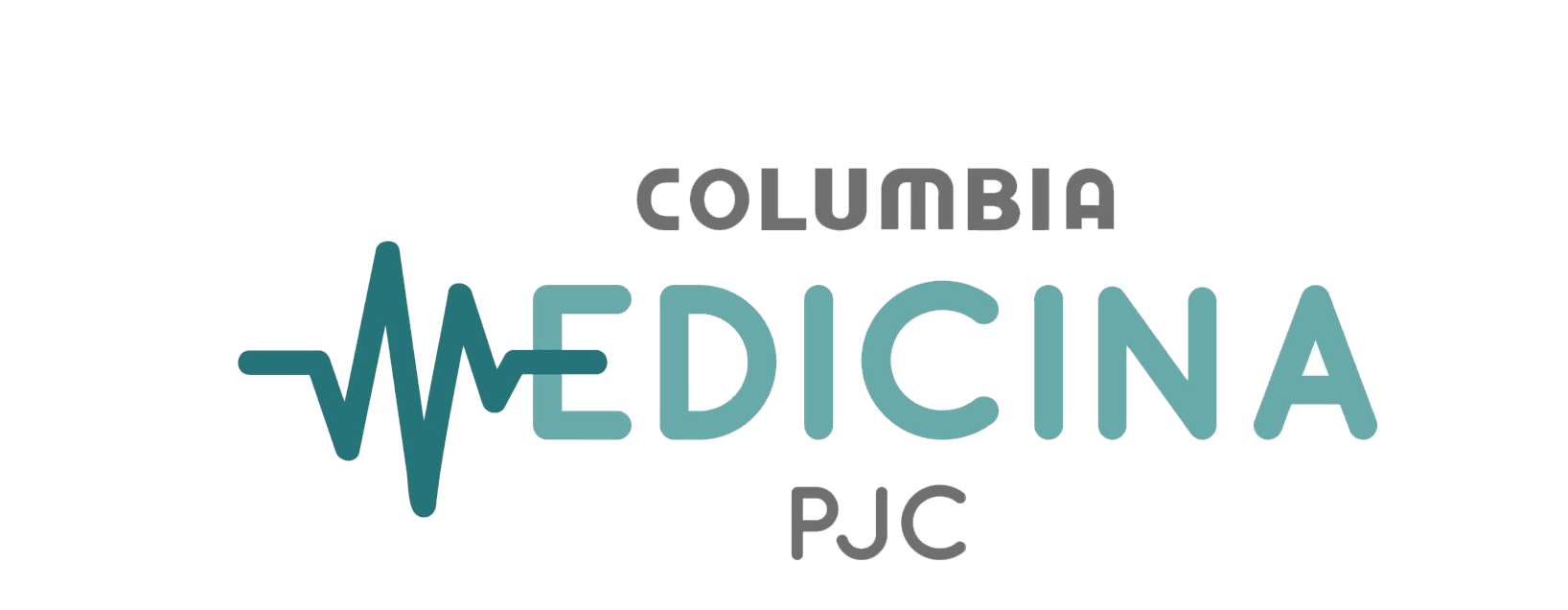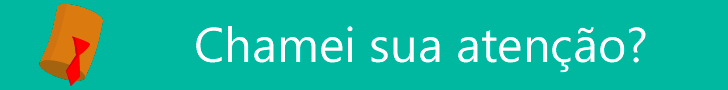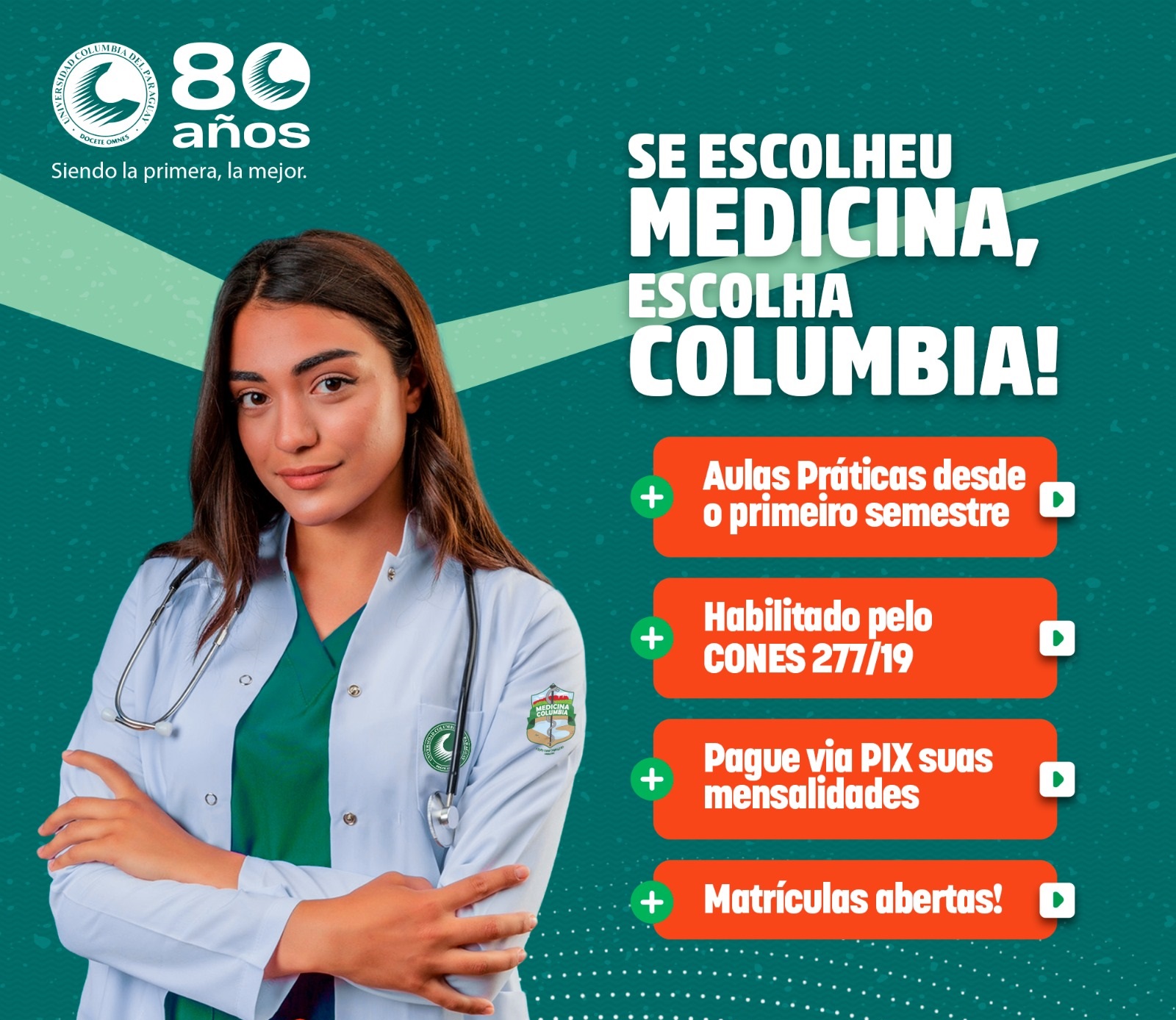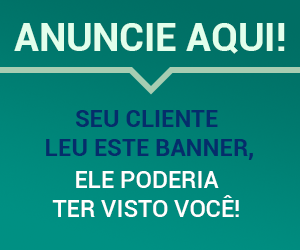Como pensar a Saúde para que não perpetue o sofrimento, mas ajude a combatê-lo?
O enfrentamento da pandemia do novo coronavírus colocou no centro do debate a forma como organizamos nosso cuidado, quais são as prioridades, e quais os próximos passos para garantir saúde a toda a população brasileira.
Diante deste cenário, há uma questão estrutural e que muitas vezes é deixada de lado quando pensamos atendimento em saúde: a garantia da saúde da mulher e o combate à violência contra a mulher presente nos procedimentos da saúde.
Isso porque muitas vezes os instrumentos que temos para garantir saúde às mulheres – seja para lidar com agressões físicas e psíquicas sofridas, ou garantir um parto seguro e seus direitos reprodutivos – normalizam a violência, agravando um problema da sociedade que o atendimento em saúde deveria atenuar.
A persistência da violência contra a mulher no serviço de saúde é uma questão complexa e multifacetada, cujo enfrentamento demanda uma reflexão e ação conjunta de todos aqueles envolvidos nas muitas esferas de cuidado – desde àqueles que atuam diretamente no atendimento, até a organização institucional.
É importante ter em vista que debater como as mulheres vítimas de violência são recepcionadas e tratadas nos equipamentos de saúde não é uma questão residual. Estudos apontam que a violência conjugal é a maior causa de lesão corporal nas emergências, mais do que acidentes de carro.
Todavia, muitas vezes, os encaminhamentos para uma fratura, por exemplo, são semelhantes nos dois casos: para o médico, indifere o contexto do ferimento (o que importa é o dano feito ao corpo, e não como esse dano foi causado).
Não podemos esquecer também daquelas mulheres que buscam atendimento em saúde por outros motivos, que não a violência que elas sofrem em suas casas, ambientes de trabalho, ou na rua.
Se não há no equipamento de saúde um ambiente acolhedor, aquela mulher pode entrar e sair sem conseguir falar em voz alta sobre seu incômodo, reforçando uma outra face da violência: a de que a mulher deve enfrentar aquele sofrimento sozinha e, principalmente, em silêncio.
Estes descasos são o que muitas vezes impedem que o tratamento seja efetivo. Ao focar apenas no agravo físico, e em como garantir que a mulher saia daquele atendimento com vida, costurada e atada, não se pensa em uma estratégia que leve ao seu empoderamento, que a ajude a superar o trauma que ela viveu e com isso impeça que ele ocorra novamente.
Devemos nos perguntar, então, quais as causas deste descaso. Por um lado, há a forma como o profissional de saúde enxerga aquela mulher, e por outro há como este enxerga a agressão que ela sofreu.
Quanto mais o profissional for formado para enxergar apenas o corpo da vítima de violência, menos capacitado vai estar para avaliar o contexto da agressão e endereçá-lo no tratamento.
Além disso, a concepção ideológica dos profissionais acerca do ocorrido também é determinante: leituras do papel tradicional da mulher como “submissa” ou “responsável” pela agressão reforçam a violência na prática assistencial. Não é incomum mulheres deixarem de buscar ajuda após um ato de violência sexual, por exemplo, por medo de serem humilhadas por médicos e enfermeiros.
Ou mesmo de mulheres que, após serem mal recepcionadas nos equipamentos de saúde, deixam de perseguir outras vias de enfrentamento à violência – como processo jurídico. De qualquer forma: enquanto a mulher não for enxergada como sujeito capaz de tomar decisões sobre seu cuidado, o serviço de saúde não estará endereçando o verdadeiro motivo da mulher estar lá: que é a busca por ajuda.
Mas como colocado anteriormente, não são apenas as mulheres vítimas de violência que podem ver seu sofrimento reforçado quando buscam atendimento em saúde. A violência obstétrica, por exemplo, é um conjunto de práticas institucionais e de profissionais de saúde bastante comum, e que pode ocorrer em qualquer contexto.
Apesar de não haver uma definição uniforme, considera-se violência obstétrica práticas de violência física e psicológica, e não só ação dos profissionais da saúde, como também falhas estruturais de hospitais, clínicas e do sistema de saúde como um todo.
Podem ser enquadradas como violência obstétricas práticas como a negação de tratamento, a humilhação verbal, desconsideração dos sentimentos, vontades e necessidade da mulher durante o pré-natal, parto e pós parto, práticas invasivas e procedimentos e medicalização desnecessárias.
Ou seja, cesáreas desnecessárias, episiotomias (incisão efetuada na região do períneo para ampliar o canal de parto), partos desacompanhados e diversas outras práticas que, infelizmente, temos como bastante comuns no dia a dia dos partos no Brasil.
Estas ações desvirtuam o momento do parto, transformando em doloroso e violento um momento que deveria ser especial e significativo na vida das mulheres. Tiram dela o papel de tomadora de decisão sobre seu corpo e sua saúde, para criar traumas duradouros em suas vidas e nas vidas de suas crianças.
Enfrentar a violência obstétrica é uma batalha árdua, uma vez que diz respeito a todas as nossas estruturas organizacionais na saúde. Em 2019, o Ministério da Saúde definiu que o uso do termo seria “inadequado”, e que buscaria aboli-lo.
Isso porque, em sua visão, não existiria tal prática institucional, e que a “invenção” desse termos seria uma forma de culpabilizar de maneira descabida médicos e enfermeiros. Meses depois, o Ministério voltou atrás após questionamento do Ministério Público e da OAB.
Negar a violência obstétrica, que assola grande parte das mulheres do Brasil e do mundo, é contra recomendação da OMS, que entende a importância de garantir os direitos das gestantes. Sabendo que os procedimentos da saúde muitas vezes contribuem com a violência contra as mulheres, como podemos pensar uma organização do atendimento em saúde que não perpetue o sofrimento e que possa ajudar a combatê-lo?
Em primeiro lugar, devemos repensar a formação dos nossos profissionais de saúde. Sua função essencial precisa ser direcionada à atenção humanizada e integral às pessoas, considerando contextos, e estratégias de tratamento que considerem principalmente a desigualdade de gênero, raça e classe.
Além disso, devemos conseguir formar todos os profissionais para a saúde sobre a violência de gênero, tornando capazes de reconhecê-la, e encaminhá-la conforme o procedimento adequado de cuidado com vítimas de violência de gênero.
Um exemplo positivo de como podemos tornar o corpo de profissionais da saúde mais preparado para lidar com um atendimento humanizado pode ser observado na gestão de Fernando Haddad, na prefeitura de São Paulo.
Em 2016, foi reconhecida a carreira de obstetriz na rede municipal. Essas profissionais são treinadas para realizar um parto humanizado, que na época já representavam quase 70% dos partos na rede pública de saúde do município.
No entanto, não podemos cair na tentação de acreditar que os nossos profissionais de saúde são os únicos responsáveis pela violência contra mulher no sistema de saúde. A falta de integralidade no cuidado impede que o combate à violência esteja presente em todos os aspectos do cuidado, e que, com isso, seja abordada de forma adequada.
Devemos, portanto, lutar por um SUS não só mais multidisciplinar, mas também com uma política de combate à violência verticalizada. Não deve haver um “departamento” para lidar com a violência, mas sim uma integração no cuidado que permita que esses profissionais transitem em todas as instâncias de cuidado, inclusive na atenção básica – principal porta de entrada no serviço de saúde.
Pensar saúde das mulheres é pensar um SUS mais forte, mais interdisciplinar e que coloque na prática o princípio da integralidade do cuidado. A violência não é um ato isolado, deve ser pensada com a complexidade e capilaridade que ela tem na vida de milhares de mulheres do nosso país.
Vivi Mendes: Advogada criminalista, formada pela USP. Foi assessora da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres de 2013 a 2016, na gestão Haddad, em São Paulo. Feminista e defensora dos Direitos Humanos.
Edição: Rodrigo Durão Coelho
Fonte: Brasil de Fato
Compartilhe isso:
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Clique para imprimir(abre em nova janela) Imprimir
- Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela) LinkedIn
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela) Pinterest
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Clique para compartilhar no Threads(abre em nova janela) Threads
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Mais